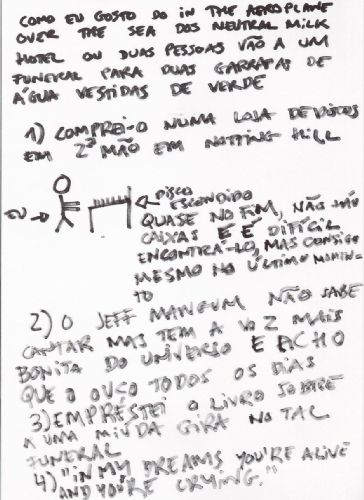Lembro-me perfeitamente da primeira vez que ouvi (com atenção) "Wolf Like Me", do último álbum dos TV On The Radio. Tinha gostado, na altura do Desperate Youth, Blood Thirsty Babes, moderadamente do disco e do Young Liars que veio antes. Com o tempo, veio a crescer. Antes era só "Ambulance", que cedo se tornou umas das minhas canções favoritas de sempre. Nessa noite, estava eu no Incógnito, nem sei bem porquê (tinha ido ao Lounge ver um amigo meu tocar e só tinha chegado no fim e não queria desperdiçar uma viagem de táxi só para ver o final de um amigo meu a tocar), e a DJ passou (disse que era para mim), o tema. Não pensei muito nisso, pareceu-me só mais ou menos, só depois é que veio a revelar-se como uma malha enorme, que mete a um canto quaisquer revivalistas do rock. Como basicamente todas as canções dos TV On The Radio, é uma canção simples, com algumas partes diferentes, mas com uma produção que dá a volta a isso tudo (e a parte final de "We're howlin' forever ooh-ooh", com a tipa dos Celebration, é deliciosa). Ainda não tinha ouvido o Return to Cookie Mountain que, pouco mais de um mês depois, já se tinha tornado num dos meus discos favoritos do ano. Mas ainda não cheguei aí.
Essa foi uma boa noite. Apresentaram-me alguém importante nessa noite (na verdade, reaparesentaram-ma, já a tinha conhecido antes). Foi bom. E hei sempre de associar os TV On The Radio a isso, não só por essa pessoa também ser fã e partilhar comigo o fascínio por "A Method", que se tornou, rapidamente, uma das minhas canções favoritas de sempre. O meu pai está sempre a chatear-me porque, para ele, os Wilco do A Ghost is Born são os Beatles e os TV On The Radio dessa canção, quase só a cappella e percussão (uma progressão de "Ambulance", do disco anterior, outra das minhas canções favoritas, uma das melhores canções de todo o sempre), com um assobio delicioso são os Beach Boys. O meu pai é assim. Para ele, os Pavement são "genéricos". Gosto muito dele, mas pronto. E depois tento provar que não, que os TV On The Radio não são os Beach Boys, mas logo que começa a música ele diz "preciso de dizer alguma coisa?" e assim. São coisas da vida.
Os TV On The Radio são enormes porque soam enormes, épicos, deviam ser muito maiores do que realmente são. Mas soam como se fossem, e, no final de contas, deve ser isso que mais interessa. É música urbana e sofisticada, mas sempre com uma produção que remete para a decadência da sociedade industrial, para o encontrar beleza dentro de um cenário pós-apocalíptico, de encontrar magia num mundo de betão e assim. Claro, David Andrew Sitek é um produtor talentoso e perfeccionista, mas há sempre ali qualquer coisa de selvagem e completamente fodida (tradução do inglês "fucked-up", que não quer dizer a mesma coisa). Os TV On The Radio são a melhor banda de pós-punk da actualidade, por muitas razões, sendo a maior delas não quererem soar ao que soavam as bandas de pós-punk canónicas. E isso é muito mais do que posso dizer de muitas outras bandas de hoje em dia. Têm um dos meus discos do ano, duas das minhas canções de sempre, e uma pessoa de quem gosto muito. E isso chega-me. E, mesmo que passe a vida a implicar com aquilo, valeu a pena ir ao Incógnito naquela noite.
Essa foi uma boa noite. Apresentaram-me alguém importante nessa noite (na verdade, reaparesentaram-ma, já a tinha conhecido antes). Foi bom. E hei sempre de associar os TV On The Radio a isso, não só por essa pessoa também ser fã e partilhar comigo o fascínio por "A Method", que se tornou, rapidamente, uma das minhas canções favoritas de sempre. O meu pai está sempre a chatear-me porque, para ele, os Wilco do A Ghost is Born são os Beatles e os TV On The Radio dessa canção, quase só a cappella e percussão (uma progressão de "Ambulance", do disco anterior, outra das minhas canções favoritas, uma das melhores canções de todo o sempre), com um assobio delicioso são os Beach Boys. O meu pai é assim. Para ele, os Pavement são "genéricos". Gosto muito dele, mas pronto. E depois tento provar que não, que os TV On The Radio não são os Beach Boys, mas logo que começa a música ele diz "preciso de dizer alguma coisa?" e assim. São coisas da vida.
Os TV On The Radio são enormes porque soam enormes, épicos, deviam ser muito maiores do que realmente são. Mas soam como se fossem, e, no final de contas, deve ser isso que mais interessa. É música urbana e sofisticada, mas sempre com uma produção que remete para a decadência da sociedade industrial, para o encontrar beleza dentro de um cenário pós-apocalíptico, de encontrar magia num mundo de betão e assim. Claro, David Andrew Sitek é um produtor talentoso e perfeccionista, mas há sempre ali qualquer coisa de selvagem e completamente fodida (tradução do inglês "fucked-up", que não quer dizer a mesma coisa). Os TV On The Radio são a melhor banda de pós-punk da actualidade, por muitas razões, sendo a maior delas não quererem soar ao que soavam as bandas de pós-punk canónicas. E isso é muito mais do que posso dizer de muitas outras bandas de hoje em dia. Têm um dos meus discos do ano, duas das minhas canções de sempre, e uma pessoa de quem gosto muito. E isso chega-me. E, mesmo que passe a vida a implicar com aquilo, valeu a pena ir ao Incógnito naquela noite.